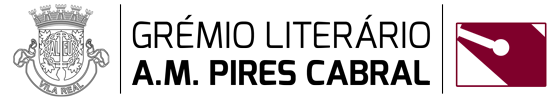ATIVIDADES
O EXEMPLO DE MANUEL DUARTE
O poeta vila-realense Manuel Duarte de Almeida (1844-1914), já o fizemos notar por mais de uma vez, é um bom exemplo do escritor que o tempo triturou. Foi na sua época festejadíssimo, não só pelo público culto, como pela imprensa de âmbito nacional, como por companheiros de letras que o mesmo tempo, contrariamente ao que fez com ele, poupou: João de Deus, Camilo Castelo Branco, Antero de Quental, por exemplo. Recordo aqui alguns adjectivos que se escreveram a propósito dele: adorado, único, glorioso, incomparável, genial, divino, primacial, inimitável, culminantíssimo. Caramba! Nem um segundo Camões! Vale o facto de Manuel Duarte de Almeida ter sido, a par de uma bela estampa de homem, criatura de uma modéstia total e absoluta, quase comovente. Quando não, corria o risco de lhe acontecer o mesmo que à rã da fábula: inchar, inchar, inchar – e rebentar.
E todavia, quem o recorda hoje, a não ser num contexto de estudo da escola parnasiana portuguesa? Poderemos dizer que ainda está vivo como poeta? Lêem-se as suas obras e reconhece-se uma oficina honesta, uma tal ou qual suavidade e gentileza de expressão, uma sensibilidade apurada e por vezes magoada. Mas isso não basta. Percebe-se que o tempo erodiu aqueles versos, comeu-lhes o melhor e regurgita-os embrulhados em bafio. Em suma, os seus poemas não resistiram ao tempo.
Caso único? De forma nenhuma. O nosso poeta não está desacompanhado nesta situação de vítima dos volúveis juízos do tempo. Tomás Ribeiro. Quem lê hoje Tomás Ribeiro? Bulhão Pato. Quem conhece de cor o título de um livro de Bulhão Pato? Fausto Guedes Teixeira. Quem sabe onde repousam os ossos de Fausto Guedes Teixeira?
Os exemplos são aos magotes. E muitas vezes – requinte de crueldade – o bicho do olvido nem espera pela morte do poeta e entra a roer a sua aura ainda em vida.
Não vale a pena a ninguém embandeirar em arco só porque a crítica do seu tempo o incensou. Pode muito bem calhar que amanhã o seu nome esteja no limbo dos esquecidos e os seus livros cobertos de pó no depósito morto das bibliotecas. A grande pedra de toque da qualidade duma obra não é o juízo dos contemporâneos, mas o do tempo, que tudo faz sedimentar e depois traz ao de cima apenas aquilo que tem a marca da perenidade. O resto fica lá pelos fundos. Pode excitar uma curiosidade aqui e ali, justificar um busto na terra que lhe foi berço ou servir para teses de mestrandos que não acharam nada melhor (ou mais fácil) para estudar. Mas dificilmente pode ser ressuscitado enquanto material literário vivo.
Sirva Manuel Duarte de Almeida de memento a uns quantos que andam por aí cheios de empáfia e convencidos de que, quando morrerem, deixam viúva a literatura portuguesa.
A. M. Pires Cabral
NO TEMPO DE LOTELIM
Lotelim é alcunha dos tempos de estudante transformada em pseudónimo do Dr. Joaquim de Azevedo, advogado de que pouco mais sei do que o facto de ter nascido no concelho de Vila Real – e de ter publicado em 1940 um livro intitulado Naquele tempo… (Recordações da mocidade), de que o Grémio Literário Vila-Realense acaba de publicar uma edição fac-similada.
O livro faz jus a uma capacidade inata dos vila-realenses para a pilhéria, a resposta pronta e – aparentada com estas e fechando-as como uma cúpula grandiosa – a alcunha certeira. Já Pina de Morais, numa crónica esquecida, celebrava nos vila-realenses esta balda das alcunhas.
Naquele tempo… é assim uma emanação deste espírito, assim como o são os chamados Garotos da Bila – designação de forma alguma insultuosa, antes assumida com galhardia pelos ditos garotos, um grupo de pessoas que sobressaía do trivial pelo seu sentido crítico, pela sua boa disposição inata, pela sua irreverência.
O livro reporta-se às primeiras décadas do séc. XX e é no fundo uma colecção de contarelos verídicos (ou, vá lá, quase verídicos, que nestas coisas há sempre uma tendência para acrescentar o dito ponto ao conto que se conta) cujas personagens são figuras da boémia vila-realense dessa época. Tudo gente que percorre as tascas (ou “capelas”, ou ainda “ermidas”, na sua linguagem típica e com o seu quê de sacrílega), onde papa ceias de cabrito com pimentos e emborca copadas de vinho ou de genebra, e que deixou de si uma memória picaresca, plasmada em paradas e respostas que ainda hoje provocam o riso.
Dir-se-á que haveria, no âmbito da literatura vila-realense, coisas mais sérias para editar. Mas eu entendo que é muito séria esta atenção a uma idiossincrasia das gentes de Vila Real, que, bem ou mal, moldou a sua identidade cultural, logo ajudou a moldar a comunidade. É afinal a “petite histoire” e os seus protagonistas que estão em jogo. Nem tudo no passado de Vila Real podem ser glórias militares e lances dramáticos. Há que olhar também para o lado humilde da história. E estarmos gratos ao Dr. Joaquim de Azevedo – perdão, a Lotelim – por ter celebrado, no longínquo ano de 1940, a Vila Real boémia e galhofeira de outrora que entretanto – helás! – se perdeu pelo caminho.
A. M. Pires Cabral
CAMILO E A MORTE
Mão amiga e ocupada em consultas sistemáticas ao Vilarealense, de que recentemente a Câmara Municipal de Vila Real em boa hora adquiriu uma colecção quase completa, fez-me chegar um texto que ali encontrou e lhe deu no goto.
Transcrevo, actualizando a grafia e arriscando uma ou outra correcção que me parece conveniente (e perdoem-me, se erro):
CAMILO CASTELO BRANCO
O eminente romancista Camilo Castelo Branco escreveu o seguinte num jornal da província, sob a epígrafe – Os dois retratos.
«O retrato que me fizeram há 30 anos está ali, ao lado do que ontem me fizeram aos 60 anos. Estão espantados um do outro. O velho diz ao rapaz:
– Eu já fui o que tu és.
O rapaz diz ao velho:
– Bem sei. Estou aqui para te punir pela vangloria com que então te retrataste nesta postura soberba de força, de saúde, com um sobrecenho petulante. Contempla-me, velho, e se não és tão miserável que chores, lê a “Velhice” de Cícero, e verás que a Providência Divina até nas margens da sepultura faz vicejar as flores. Tens sobre mim grande vantagem. Eu tinha que tragar o cálix de 30 anos de desgraças. Tu cumpriste a sentença e vais enfim descansar.»
Aqui fica este naco de filosofia estribada em Cícero e bem ao jeito de um Camilo cada vez mais enfermiço com a idade e cada vez mais enamorado da morte como libertação e repouso. O que não impede que seja possível detectar no escrito subtis harmónicas de angústia pela inevitabilidade da própria morte que apetece. E este diálogo de pulsões antagónicas – morte desejada mas temida, ou temida mas desejada – é um dos mais fecundos filões da prosa e da poesia camiliana.
A. M. Pires Cabral
CAMILO ERA MAUZINHO
Todos sabemos que Camilo Castelo Branco era mauzinho. Ainda que os seus rancores se fossem diluindo com o tempo, era impulsivo e nada dado a oferecer a outra face. Ninguém lhas fazia que não lhas pagasse. E com língua de palmo – na arrepiante imagem que se usa em casos que tais em Trás-os-Montes. Por algum motivo era temido como polemista formidável, perito e useiro e vezeiro em toda a casta de golpes, baixos se preciso fosse, para derrotar os que o enfrentavam. Mesmo quando não tinha razão – e muitas vezes não a tinha –, levava de vencida os opositores, derrotando-os pela irrisão impiedosa quando o não podia fazer pelas ideias em si mesmas.
Vejamos um exemplo.
Publicou Camilo em 1879 o Cancioneiro Alegre de Poetas Portugueses e Brasileiros. É uma antologia comentada, em que o antologiador, caturra, se mostra geralmente pouco simpático para com os poetas novos, principalmente os brasileiros.
As reacções não se fazem esperar. Artur Barreiros, um brasileiro indignado, publica uma carta no Rio de Janeiro, em que diz ter uma bengala com que castigará Camilo. Como se uma simples bengala pudesse rivalizar com o estadulho camiliano...
Tomás Filho, poeta carioca, aliás estimável, sai também a terreiro com um opúsculo de oito páginas em desafronta dos poetas brasileiros, em termos nem sempre elegantes. Tal não fizesse. Camilo, que não gostava que lhe pisassem os calos, mesmo aqueles a quem ele os tinha pisado primeiro, achincalha-o cruelmente na segunda edição do Cancioneiro.
Principia deste jeito: “Tomás Filho! Começa logo por mentir no apelido. Filho! Quer-me parecer que ele não tem pai. E, se o teve anónimo e hipotético, Gil Vicente, António Prestes e Jorge Ferreira de Vasconcelos são quem amiúde lhe dizem o nome da mãe.”
Segue-se uma saraivada de bordoadas, qual delas a mais sonora no costelame do pobre poeta brasileiro. Levado no seu crescendo de chacota, Camilo acaba por fechar o artiguelho assim, sem tirar nem pôr: “Depois disto, Tomás Filho deputa e delega na bengala de Artur [Barreiros] a sua desforra.” Sublinhado nosso. Consta que Tomás Filho ficou acabrunhado para o resto dos seus dias.
Era mesmo mauzinho, o velho patriarca das letras portuguesas.
A. M. Pires Cabral
O EXEMPLO DE MANUEL DUARTE
Quem deita um livro ao mundo é como se deitasse um filho: ninguém sabe o destino que terá. Já contei algures como muitos exemplares do meu livro de estreia, Algures a Nordeste, acabaram ingloriamente os seus dias como acendalhas para a lareira. E viva o velho se não tiveram destino ainda mais impróprio… Que isto de papéis, numa casa rústica, têm serventias que não lembram ao diabo.
Vem tudo isto a propósito de Fausto José, o poeta de Armamar (onde preferem chamar-lhe o poeta de Portugal). Vi no catálogo dum alfarrabista um exemplar de Síntese, de 1934, o seu quarto livro de poesia e um daqueles em que é mais visível o seu fervor nacionalista e a sua propensão para a lírica popular, e pensei que não era tarde nem era cedo: tratei de o mandar vir (por 32 euros e meio) para o Grémio Literário Vila-Realense, que, em matéria de Fausto José, só dispunha dos dois grossos volumes da sua obra completa, em boa hora editados em 1999 pela Câmara Municipal de Armamar, que têm às vezes as suas pequenas falhas de revisão.
Chegado o livro, depara-se-me na primeira página uma dedicatória: «Ao Engenheiro Fulano de Tal [omito naturalmente o nome] of. o amigo que muito o considera, Fausto José».
Não sei quem fosse este engenheiro que o poeta tanto considerava. Não deve ter deixado grande rasto público, pois o próprio Google, onde qualquer zé-ninguém aparece e faz figura, guarda sobre ele um silêncio sepulcral. O que sei é que a consideração não devia ser recíproca, pois – verifiquei logo em seguida – o tal sujeito nem sequer se tinha dado ao trabalho de abrir o livro. Abrir no sentido de, com uma faca ou canivete, individualizar as folhas que estavam ainda agrupadas quatro a quatro, conforme tinham sido dobradas na tipografia. Imagino a cena: o engenheiro a receber o livro e acto contínuo, com um bocejo, dizer: «Bah! Coisas de poetas…» e a colocá-lo enjoado na estante, enquanto pensava em cambotas, parafusos e outras coisas realmente úteis.
Enquanto abria carinhosamente o livro, com a minha navalhinha de Palaçoulo, não pude deixar de pensar, desanimado: a quem oferecemos os nossos livros…
10 de Julho de 2008
A. M. Pires Cabral
ROBERT MANNERS
 Robert Manners Moura, filho de pai Português e de mãe Sul-Africana, de origem Anglo-Germânica, cresceu no Alto Douro (Régua), anos 40/50, com permanências periódicas em Ansiães (Trás-os-Montes). Depois do ensino primário, regressou, a Moçambique, onde nasceu em 1942, para, qual Galaaz, reconciliar dois adultos, desavindos.
Robert Manners Moura, filho de pai Português e de mãe Sul-Africana, de origem Anglo-Germânica, cresceu no Alto Douro (Régua), anos 40/50, com permanências periódicas em Ansiães (Trás-os-Montes). Depois do ensino primário, regressou, a Moçambique, onde nasceu em 1942, para, qual Galaaz, reconciliar dois adultos, desavindos.
Voltou definitivamente ao norte do País em 1956.
Depois da passagem pelo ensino médio agrícola, matriculou-se, na Tapada da Ajuda, em Lisboa, em Agronomia, curso com uma influência seminal. Derivou, depois, para a Arquitectura Paisagista, licenciatura também proporcionada na Tapada da Ajuda. Licenciou-se neste curso, no corolário das suas preocupações estéticas, naturalistas e holísticas.
No seguimento, teve uma carreira no âmbito da conservação da natureza, no agora Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Aqui, «lançou» no terreno várias áreas protegidas, como os parques naturais da Arrábida, de Montesinho e do Alvão.
Recebeu a Medalha da Cidade de Vila Real, ouro, pela instalação do Parque Natural do Alvão e por serviços prestados às populações rurais dessa mesma área protegida.
Após o seu mestrado e o seu doutoramento, foi docente na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, publicando vários livros académicos.
Só depois de aposentado, em 2008, foi possível rematar o seu livro básico, Douro e Duríades (Bubok), ao qual se seguiram Há Fogo na Montanha! (Bubok, 2013), Duro Douro (Euedito, 2014), O Mundo É Pequeno! (Euedito, 2015) e Polianteia Transmontana (Várzea da Rainha Impressores, 2017).
No momento, prepara um primeiro volume de mais um livro sobre o Douro, especialmente sobre o Alto Douro. O conteúdo decorre de uma sucessão de crónicas, que continuam, colocadas bissemanalmente na sua página de Facebook, com o aplauso e pressão para publicar em papel por parte dos leitores:
https://www.facebook.com/robert.manners.moura
CARLA RIBEIRO

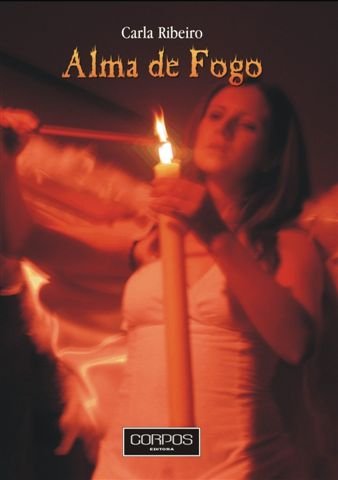

O meu nome é Carla Sofia Lopes Ribeiro, nasci a 20 de Julho de 1986 e sou natural de S. Martinho de Mouros. Estudo Medicina Veterinária na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e escrevo.
Comecei a escrever com aproximadamente catorze anos, por simples vontade de transmitir para o exterior os meus pensamentos e sentimentos. Comecei por escrever poesia e alguma prosa poética, passando aos contos e, só mais tarde, à narrativa longa. Presentemente, escrevo um pouco de tudo, apesar de, na poesia, ter uma predilecção especial pela estrutura de soneto.
Até à data em alguns concursos literários, onde obtive alguns resultados positivos, entre os quais os que se seguem.
- 3º lugar no concurso “Douro Leituras” 2003
- menção honrosa no Prémio Padre Moreira das Neves – Paredes 2004
- 1º lugar na modalidade Poesia do concurso “Uma Aventura... Literária 2002”
- menção honrosa no concurso "Uma Aventura... Literária 2001"
- 2º lugar no concurso "Segredos da Minha Terra - Biblioteca Municipal de Vouzela" - 2004
- 2º lugar no concurso “Descobrir Vizela” 2003
- 1º lugar nas modalidades de poesia e conto do concurso "Março Mulher 2004", prefeitura de Guaratinguetá, Brasil
- ... entre outros
Em termos de publicações, estreei-me com um conto de título “Asas Abertas” na antologia “Idiossincrasias”, editada pela AG edições, no Brasil. Em finais de 2005, publiquei “Estrela sem Norte”, um livro de poesia, pela Corpos Editora, e, em finais de 2006, pela mesma editora, publiquei “Alma de Fogo”, narrativa da área da fantasia e primeiro volume de uma trilogia. Além disso, tenho actualmente vários projectos em progresso, tanto individuais como conjuntos, nas áreas da prosa e da poesia.
Os meus principais interesses são história, literatura, poesia, música e mitologia. Em termos de escrita, a minha poesia tende para temas e/ou estados de espírito mais soturnos, melancólicos e, eventualmente, negros. Em termos de prosa, tenho uma preferência especial pelos mundos fictícios, fantásticos, mas também pela abordagem a algumas épocas históricas. Os meus grandes ídolos literários são, na área da poesia, Florbela Espanca, Bocage e Fernando Pessoa, e, na área da literatura fantástica, David Gemmel, Jonathan Stroud e Marion Zimmer Bradley.
Sobre mim, não há muito mais a dizer. Se despertei a sua atenção, caro leitor, pode descobrir-me no site www.freewebs.com/carlaribeiro, no blog http://valedassombras.blogspot.com ou no site da Corpos Editora, www.corposeditora.com. Além disso, pode contactar-me para o e-mail CarianMoonlight@gmail.com.
EXCERTOS
(do livro Estrela sem Norte)
MESSIAS ARREPENDIDO
Olhos cerrados numa muda prece,
Braços abertos para o infinito...
Caído em terra, onde a vida se esquece,
Lábios cerrados, prendendo seu grito.
Lágrimas enchem seu rosto contrito.
No seu coração, a agonia cresce.
Em si, tomou tudo o que era maldito,
Mas é sempre de dor a sua prece.
Por séculos e séculos nascido,
Viveu para redimir o pecado
E por ele morreu, na dor calada.
A agonia é demais! Arrependido,
Vive a sua revolta, abandonado
Numa missão para sempre falhada!
(do livro Alma de Fogo, excerto do Capítulo 3 – “A Vontade de Arasen”)
Um silêncio ensurdecedor dominou toda a sala, durante breves instantes, enquanto a semideusa, com o seu olhar faiscante na mais pura fúria, observava fixamente a entrada, onde apenas era visível uma sombra projectada no chão.
- Como é estranho – continuou a voz – que pretendas, com as melhores das intenções, claro, ensinar as leis às tuas guardiãs e, contudo, te esqueças tu própria da mais importante e irrevogável de todas elas! Diria que isso é uma falha imperdoável da tua parte!
O corpo de Ruthien tremia de pura cólera. Quem era o dono daquela voz, calma e serena, tão perturbadora na sua indiferença? Quem era aquele homem, que fora ousado o suficiente para invadir um ritual onde não era permitida a sua presença e ainda se atrevera a censurar os seus procedimentos? Claro que não se esquecera da lei! Limitara-se a não a referir, para se poupar a uma humilhação quando soubessem quem era o pai da criança de Aludra.
- Quem está aí? – perguntou, encolerizada – Não é permitida a entrada a homem algum nos rituais das guardiãs!
- Esqueces assim tão facilmente? – replicou a voz, em tom de censura – Noutros tempos, a minha voz era suficiente para que viesses ao meu encontro, submissa e humilde, sem te importares com o que estivesses a fazer. Mas parece-me que julgas que, por terem passado oito anos, os meus direitos se perderam. E agora, já me reconheces?
Lentamente e com uma expressão triunfante, o homem avançou por entre o corredor que as guardiãs, que imediatamente o haviam reconhecido, abriam, permitindo a sua passagem. Avançou com firmeza, colocando-se diante da semideusa, à distância de poucos passos dela, e olhando-a com uma expressão indecifrável. Rapidamente, Ruthien observou a imponente figura, vestida de negro, cuja longa capa ondulava ainda atrás de si, como se ele ainda se movesse. Observou as suas mãos, apertando firmemente o longo ceptro de ébano, gravado com runas. Olhou o seu rosto, possuidor de uma palidez quase de morte, emoldurado pelos negros cabelos que lhe caíam sobre as faces, onde brilhavam dois claros olhos azuis, com uma expressão glacial, e foi incapaz de conter uma exclamação de espanto:
- Vós?
1. O Município de Vila Real, por proposta da Assembleia Municipal, aprovada por unanimidade e aclamação na sessão de 26 de Fevereiro de 2010, cria o Prémio Literário ‘António Cabral’, que se rege pelo seguinte articulado.
2. O Prémio Literário ‘António Cabral’ tem uma periodicidade bienal, com início em 2011.
3. A modalidade a concurso é a Poesia.
4. São admitidos unicamente originais em língua portuguesa.
5. Os trabalhos serão obrigatoriamente inéditos, devendo os respectivos Autores enviar, juntamente com a documentação referida no ponto 9, uma declaração atestando que nenhum dos poemas que apresenta foi algum dia publicado sob qualquer forma (livro, jornal, revista, internet, etc.).
6. Os originais terão um mínimo de 400 versos, distribuídos por qualquer número de poemas.
7. O número indicado no parágrafo anterior não é, naturalmente, vinculativo em absoluto, pretendendo-se apenas que os trabalhos apresentados a concurso tenham uma dimensão mínima apropriada a um livro de poesia.
8. Cada concorrente não poderá apresentar-se a concurso com mais do que um original.
9. Os originais podem ser entregues em mão no Grémio Literário Vila-Realense ou enviados por correio por forma a serem recebidos até à data-limite de 15 de Julho de 2019 para:
Grémio Literário Vila-Realense
Edifício da Biblioteca Municipal Dr. Júlio Teixeira
Rua Madame Brouillard
5000-573 Vila Real
10. Os originais devem ser apresentados sob pseudónimo e enviados em triplicado, acompanhados de um sobrescrito fechado, em cujo exterior conste unicamente o pseudónimo e que contenha no interior as seguintes indicações: pseudónimo, identificação do autor, morada e telefone, bem como a declaração constante do ponto 5.
11. Os originais serão apreciados por um júri constituído por três pessoas devidamente qualificadas, uma das quais representando o Grémio Literário Vila-Realense.
12. O júri, de cujas decisões não cabe recurso e que decidirá sobre os casos omissos no presente Regulamento, dará o seu veredicto dentro de 60 dias sobre o prazo referido no ponto 9.
13. Será atribuído um único prémio, no valor de 5.000 €, estando excluída a atribuição ex aequo por mais de um vencedor.
14. Os concorrentes obrigam-se a aceitar o presente regulamento.
15. O Município de Vila Real, através do Grémio Literário Vila-Realense, divulgará amplamente a abertura do Prémio Literário ‘António Cabral’ através da Comunicação Social.
16. O prémio será entregue ao vencedor em sessão promovida para o efeito pelo Grémio Literário Vila-Realense.
17. O Prémio Literário ‘António Cabral’ poderá ser declarado deserto se o Júri entender que nenhum dos originais reúne qualidade suficiente.
18. Os originais não premiados não serão devolvidos, sendo destruídos uma semana após o anúncio do trabalho vencedor.
REGISTOS
Uma ficção picaresca em torno da vida do primeiro gramático português
José Mário Silva
in “Actual”, Expresso, 20 de Agosto de 2011
Na abertura deste romance, Ernesto Rodrigues recorre a um dos mais antigos estratagemas ficcionais: a descoberta de um manuscrito perdido que lança nova luz sobre uma determinada figura histórica. Neste caso, o foco recai sobre Fernando de Oliveira, autor da primeira “Grammatica da Lingoagem Portuguesa” (1536). Em jeito de preâmbulo, assistimos ao encontro entre um professor de português da Universidade de Budapeste e uma aluna húngara que prepara dissertação sobre João de Barros. Nas suas investigações, a jovem recupera um documento, dobrado em 16 partes, escrito por diferentes mãos, tanto na frente como no verso. Os dois textos, autónomos, causam no professor “admiração, inveja limpa, euforia”, na medida em que revelam uma inesperada qualidade romanesca, antecipando “algumas propostas da ficção seiscentista e ulterior”.
O primeiro “livro” consiste numa estranha narrativa, passada na ilha de Bled (atual Eslovénia), em setembro de 1532, quando os turcos voltam a ameaçar a Europa. Enviado pelo Papa, Fernando de Oliveira chega a um mosteiro de frades desconfiadíssimos, numa missão pouco clara, até para ele próprio. Apresentando-se como censor de livros, tenciona vigiar aquela comunidade fechada e hostil, mas é ele que acaba vigiado.
A ilha surge como um espaço opressivo, longe do mundo, onde se infiltra, por entre as neblinas, uma espécie de irrealidade. Oliveira assiste a crimes horrendos, fugas, conspirações, diatribes teológicas e até a um bizarro “concurso europeu Cristo do Ano”, com qualquer coisa de reality show. Há ainda uma biblioteca gótica vazia (gémea siamesa de uma igreja) e um labirinto vegetal onde Oliveira intui princípios de uma “gramática da natureza”. Sendo um “homem de sentidos”, ele tem muitas dúvidas quanto à sua capacidade de resistência ao pecado, acabando por cair em tentação. Ao envolver-se num festim carnal com uma Judite de contornos míticos, o “discurso em romance”, barroco e picaresco, torna-se ainda mais difuso e inverosímil — pelo que não espanta o parecer final do frade que proíbe a obra, alegando que ela contém “muita coisa desonesta, e mal soante, alguma escandalosa e contrária à f é e bons costumes”.
O segundo “livro”, escrito no verso do primeiro, é supostamente obra do dito dominicano censor, inimigo que acompanhou como uma sombra toda a vida de Fernando, agora narrada em fragmentos (sete passos e uma “queda”). Mais do que o percurso de uma “figura indecisa” e fugidia, “mudando conforme o olhar” que sobre ele incide, importa aqui o cenário em que Oliveira se move: esse século “de ouro sombrio”, atravessado por “sismos e pestes, pirataria, perdas do rei e da nação, império ao deus-dará”, mais o Santo Ofício e seus julgamentos sumários.
Ernesto Rodrigues constrói “O Romance do Gramático” como um labirinto em que a autoria dos textos é incerta, bem como a verdade do que neles se conta. Mas o que lhe interessa, para lá das contingências ficcionais, é o retrato de um país à beira do declínio, triste sina que se prolongou até hoje. Isso e o elogio do amor (em jogo de espelhos que atravessa os séculos). Isso e o prazer da escrita, dando corpo ao “luxo de falarmos esta língua”.
Ficção - Autofagia
O Porco de Erimanto
A.M. Pires Cabral
Cotovia
Pedro Mexia
Nove fábulas sobre a doença e a mortalidade, e uma alegoria monstruosa.
Um autodidacta torna-se historiador emérito. Mas a História é um domínio demasiado vasto. Especializa-se então na História da civilização grega. Depois, em mitologia grega. Depois, mais especificamente, nos trabalhos de Hércules. E destes, especializa-se na questão do javali de Erimanto. Tem uma sede de conhecimento insaciável, uma febre da especialização indomável. Em consequência disso, o homem que sabe tudo sobre o javali de Erimanto vai-se tornando num javali. O processo de "suinificação", com todos os horrores de uma metamorfose, é a apoteose do conhecimento. Transforma-se o amador na coisa amada, e o espectáculo é deprimente.
Esta é a mais sintética fábula de "O Porco de Erimanto", colectânea de dez contos de A.M. Pires Cabral. Autor prolífico, a sua actividade de contista foi mais produtiva em meados dos anos 80, com "O Diabo Veio ao Enterro", "Memórias de Caça" e "O Homem que Vendeu a Cabeça"; "O Porco de Erimanto" é uma versão revista e aumentada deste último título. São dez as fábulas, geralmente de cunho fantástico, algumas divertidas, outras francamente assustadoras.
Há um funcionário com fumos de poeta, alojado numa pensão estadonovista, que vê a sua sanidade mental em perigo por causa de um misterioso buraco na parede. Um homem que vende a cabeça à ciência. Outro que luta com a sua sombra. Um desgraçado que ultrapassa um desgosto amoroso com ataques de incontinência urinária. Pires Cabral confunde de propósito a fisiologia e a psicologia, de modo que nunca sabemos o que é natural ou patológico, o que é absurdo ou lógico. Alguns destes sujeitos são vítimas de partidas, outros nasceram sob estrela funesta, mas todos vivem em constante angústia.
Duas ou três histórias têm um cunho mais divertido, como aquela em que o director de uma escola se arroga o direito de inspecções sanitárias intrusivas, numa sátira à ditadura e aos legalismos burocráticos em geral. Mas outros momentos são de puro terror. Não deve haver em português nenhum texto sobre o cancro tão perturbador como "Desidério". Tudo começa com a descoberta de um quisto nas costas do protagonista. Mas aquele sinal, uma excrescência que podia ser rapidamente removida, vai ficando, vai dominando a vida do seu portador, que com ele cria uma relação íntima, umbilical, quase de ternura. Pires Cabral chama ao cancro uma "autofagia", porque é uma doença que nos consome por dentro. E depois descreve em detalhe esses medos e devastações. Não são páginas sentimentais. É uma monstruosa alegoria que lembra Ballard: "É então fabricada uma réplica exacta de cada autófago, de material sintético, que não só é perfeitamente comestível como reproduz o sabor da carne humana e contém um alto teor proteínico. Tais réplicas são colocadas à disposição de cada doente, nos seus aposentos. E então os doentes vão-nas consumindo à medida dos seus impulsos". E continua: "Fala-se de certos efeitos secundários desagradáveis, entre os quais a tendência para uma progressiva transformação da autofagia em antropofagia. Mas nada se provou ainda. E os autófagos ricos podem devorar-se em efígie (...)" (p. 196).
Em todos estes contos há intimações de mortalidade, vistas com uma frieza sarcástica mas não despojada de humanidade; mas, com "Desidério", A.M. Pires Cabral escreveu uma aterradora transposição da mais inominável das doenças contemporâneas, a mais activa forma actual da nossa finitude. O caranguejo trespassado por uma lança é a imagem que abre as portas ao delírio imaginativo, à fábula pavorosa, à doença como condição humana essencial: "Cada qual deve acalentar dentro de si uma doença. Mens sana in corpore sano - para quê?!... Devemos é ter dentro de nós um relógio que nos lembre periodicamente quia pluvius sumus, que temos tributos a pagar à mecânica da carne. E que cada um pague na moeda de que dispuser. (...) Por isso eu digo: a cada um sua moléstia" (p. 178). Não é só a escrita impecável que nos agarra nestas fábulas: é não podermos fingir que não é nada connosco.
O título “passagens e afectos” sugere o fluir temporal, e até espacial, ligado pela coordenativa copulativa “e” aos afectos, o que, numa leitura global, depreende que “as passagens” suscitam novos sentimentos. Disso mesmo dá conta o sujeito poético, pois, desde o acto da sua concepção: “que fui em campo aberto” (pág. 25), marcando o seu nascimento: “E tudo aflito,/ À espera do meu primeiro grito” (pág. 27), tudo ficou registado no tempo até ao final da obra, reaparecendo sob a forma de um “eu” maduro, agarrado às memórias.
Este livro fornece-nos o percurso de um homem escondido por do detrás sujeito poético e não seriam necessárias as notas complementares para o leitor captar o sofrimento e a dor vividas em primeira pessoa, pois a poesia, embora depure sentimentos, é também o palco privilegiado para os plasmar. No poema “Um outro Adeus ao Mar” a interrogação final dos versos: “Te pedi em oração/ Que levasses meu ofertório/ Ao concílio dos deuses,/ Para que protegessem os filhos meus?” revela já abandono do sujeito por parte do Mar, esse mesmo “eu” que o escolhera para confidente e agora, desiludido, reitera: “Toma então/ o pesar verdadeiro, / De quem te quis dar/ Um filho marinheiro,/ Antes da morte o levar.” (pág. 53). Certamente que este filho é o símbolo de tantos outros anónimos que partiram, como, aliás, Fernando Pessoa evocou: “Quantas noivas ficaram por casar/ Para que fosses nosso, ó mar!”. Mas a verdade é que a Dedicatória contempla, em primeiro lugar, a “memória do meu filho”. São estas e, certamente, outras passagens que geram novos afectos que estão concentrados neste título, pois a construção da obra assinala várias etapas, espécie de capítulos muito abrangentes, em que o humano, a natureza e o divino se fundem, como podemos observar no poema “Ausência” onde a ave surge como mensageira da felicidade na terra: “Porque as aves são criaturas místicas, / Com asas celestiais, que Deus criou,/ Para alegrarem a Terra e o Céu” (pág. 68).
Estes poemas são simples, mas portadores de uma enorme sensibilidade e de um amor intrínseco à memória dos lugares e das coisas. O Douro serpenteado suspenso: “Era ali o meu Douro” (pág. 109); o Mar com os seus mistérios: “O Mar!/ - O que é o Mar, avô?” (pág. 45); as conversas com os avós, papel hoje já assumido pelos ex-filhos: “Que haja em casa uma avó querida, / Capaz de criar os três!” (pág.116); a Terra estreitamente ligada à função materna: “Por isso é a ti, Mãe-Terra / Berço da terrena criação/ Que faço solene pedido.” (pág.91); a Água como fonte essencial da vida: “E sem água/ O sangue da Terra/ Não existirá vida.” (pág. 93), e associada à chuva: “Chuva, filha predilecta do Mar.” (pág. 95), ao granizo: “O granizo era como balas/ De guerreiros de pedra.” (pág. 96), e à neve: “que coisa tão bela,/ Era a neve a dançar” (pág. 97).
Os elementos da Natureza citados formam campos lexicais muito mais vastos que adornam a poesia, enquanto protagonistas dos cenários envolventes: assim, junto ao mar, temos as ondas, as sereias, os marinheiros e as praias; na terra, ou nas serranias, encontramos uma vegetação rica com flores campestres e silvestres que, por vezes, acolhem os grilos e as formigas e atraem outros insectos alados, tais como as abelhas, as borboletas e as mariposas. E destes versos sobressai ainda o belo cromático dos amores-perfeitos ou do jasmim que se associam a uma enorme colecção de aves: o melro, o pardal, o pintassilgo, o tentilhão, a carriça, a rola. O mesmo olhar analítico e perspicaz de coleccionador devotado a escolher os melhores versos para a sua colectânea: versos, produto de experiência e de sabedoria calcinada pelos tempos e pelos espaços mundividenciais que cercaram o sujeito de enunciação; versos de amor e de gritos... versos que transformaram um homem de armas em poeta. Porque, apesar do “se” presente nos versos: “Ah se eu fosse poeta, / Minha mãe” (pág. 29), o sujeito revela-se sem hesitações e afirma-se como um grande poeta; talvez tenha sido a vida que o prendeu à magia das palavras e, por elas, tenha conquistado o sentido do belo e o êxtase contemplativo do universo, segredos muito bem guardados, mas também desvendados por Sophia de Mello.
Este livro, na sua simplicidade, reúne reminiscências de poetas de todos tempos: desde Antero de Quental, Augusto Gil, Cesário Verde até Sophia de Mello e, como não poderia deixar esquecido, seu conterrâneo Torga. De uns, o poeta colheu o colorido, de outros, o jeito de fazer versos, de outros, a inspiração, e de Torga a veia telúrica que fez de Trás-os-Montes uma terra singular.
A relação existente entre o “eu” e o “tu”, por vezes personificado, bem como o tom confessional e o discurso dialógico impregnam a poesia de ritmos e toadas disfóricas, de acordo com a intencionalidade comunicativa subjacente.
São poemas feitos das memórias que acompanharam o crescimento do ser e souberam esperar pela hora de nascer, através da palavra - o arco-íris, a presença dos avós, as paisagens, os lugares -, são imagens presentificadas a preencher o caminho percorrido e a assinalar o que ficou por aprender: “E interrogo o espaço percorrido, / Mas ele não me sabe responder./ Porque no tempo fui consumido, / E com tanta coisa por aprender!” (pág. 108).
Esta partilha de memórias com o leitor é, sem dúvida, um gesto de amor e de coragem que João Rodrigues decidiu assumir... e cada um saberá receber, consoante a sua entrega. Afinal, todos estamos expostos às passagens e aos afectos!
Júlia Serra
(Professora e crítica literária)
In Jornal dos Poetas e Trovadores, n.º 50, Outubro/Dezembro 2009, 3.ª Serie, Ano XXIX.
Donzília Martins, natural de Murça, é uma autora cuja produção literária foi dada a público quase na totalidade na primeira década do séc. XXI. Apenas o primeiro livro, em poesia, com o título Lágrimas e Sorrisos em Sonhos de Vida, é de 1991. Os dois seguintes, Lírios Do Campo e Quando o teu Olhar, também em poesia, já são respectivamente de 2004 e de 2006.
Em 2007 publicou a sua primeira obra em prosa, com o título Um país na Janela do meu Nome, com a qual, através das histórias que conta relacionadas com momentos da sua infância passada na área geográfica de Murça, contribui para a preservação da memória cultural de Trás-os-Montes dos anos cinquenta e sessenta do século XX. Um país na Janela do meu Nome é um livro que resulta de uma memória que se vai construindo. É como uma caixinha de música que, ao abrir-se nos delicia com sons da nossa infância, só que esta caixinha é mágica e, em vez de nos dar apenas sons, dá-nos também imagens, cheiros, sabores de um tempo e de um espaço trasmontano. Nele o leitor encontra vivências que a Autora pretende fazer crer “sem utopias nem ficção”, considerando-o “um livro de memórias, de vivências”, “um livro branco onde abriu e estendeu a alma” (Martins 2007: 14), como há já algum tempo escrevemos (Monteiro 2008: 101-108).
Os dois últimos livros que Donzília Martins publicou são de literatura infanto-juvenil e têm por título História do Zé Luís, o menino petiz, de 2008, e Sonhos de Encantar, publicado em 2009. É dele que vamos falar com mais detalhe:
Donzília Martins no “Prefácio” afirma “Só há pouco tempo descobri a magia que é sonhar contos do imaginário com crianças” e essa possibilidade resulta sobretudo do facto de ser avó e de se ter aposentado. Assim, tem agora mais tempo disponível para se ver “transportada para o tempo tempo em que, à lareira, ouvia as lindas histórias de encantar”.
Antigamente, sem televisão, sem computador, sem as actividades e as condições de vida que hoje as crianças têm, o tempo em família era muitas vezes ocupado à lareira, em ambiente comunitário e de aconchego. O tempo e o espaço eram propícios ao relato de contos tradicionais e de histórias do quotidiano. Mas havia também os serões comunitários que Miguel Torga, alterónimo1 de Adolfo Rocha, apresenta no conto «Abre-te, Sésamo», no qual nos aparecem “as mulheres a fiar, a dobar ou a fazer meia, os homens a fumar e a conversar, e a canalhada a dormitar ou nas diabruras do costume” (Torga 1988:101). Mas, quando chegava “a hora do Raul ler as histórias do seu grande livro, todos arrebita[va]m a orelha”. As pessoas da aldeia reuniam-se numa “loja de gado, ao quente bafo animal” e “todos os moradores se cotizavam para pagar a luz do carboneto ou de petróleo e o serão começava” (Torga 1988: 102). Como escreve aquele autor trasmontano, natural de S. Martinho de Anta, “é no Inverno, nas grandes noites sem-fim, que se goza na aldeia essa fraternidade” (Torga 1988: 102). Nos anos quarenta do século passado, era assim em algumas aldeias. Hoje, no séc. XXI, os serões são bem diferentes, na maior parte das vezes mais solitários, em que cada um se ocupa a estudar, a ver televisão ou com os telemóveis, os jogos de computador, a Internet.
Em Sonhos de Encantar, Donzília Martins refere que tem a preocupação de reinventar os sonhos que os contos tradicionais faziam surgir e também a cultura popular que foi a sua escola para a vida, até porque, como escreve no mesmo “Prefácio”:
“É dessa cultura popular que vim e da qual me orgulho. Foi ela a minha escola para a vida. Por isso quero dar o meu testemunho às crianças, a fim de que também elas no seu imaginário possam sonhar e serem mais felizes.” (Martins 2009: 4)
Essa escola da vida já o leitor a conhece de uma obra que a Autora escreveu anteriormente, Um País na Janela do meu Nome, e é ela que leva a que uma menina diga que vale mais estudar do que ter dinheiro. Falamos do conto «A caixinha mágica», no qual encontramos uma lição de vida que é dada pela menina, para quem estudar era mais importante do que as moedas, porque “o dinheiro gasta-se e a sabedoria fica” (Martins 2007: 25). Ao preferir a sabedoria ao dinheiro, a adolescente revela a sua prioridade, porque com sabedoria poderia ter um melhor trabalho mais tarde. Assim, o dinheiro que a avó queria deixar-lhe após a morte, foi utilizado para pagar os estudos e realizar o seu sonho. O sonho da menina do conto «A caixinha mágica» tornou-se realidade na história de Donzília Martins, mas nesse tempo nem sempre assim acontecia, como muito bem o demonstrou o escritor duriense Soeiro Pereira Gomes (cujo centenário do nascimento ocorreu em 14/04/2009 e que aqui homenageamos de forma singela). Na sua obra Esteiros, Soeiro Pereira Gomes deu a conhecer a exploração do trabalho infantil e a desigualdade de oportunidades no Portugal dos finais da década de trinta, princípios da de quarenta do séc. XX.
Em Sonhos de Encantar Donzília Martins refere que tem a preocupação de apresentar ao leitor “textos mais didácticos e reais do que lúdicos ou ficcionais” (Martins 2009: 4), contudo a fórmula encantatória com que abre as histórias “Era uma vez...” transporta logo o leitor para o mundo mágico da ficção intemporal. Existe também um apelo à imaginação de quem lê o livro, procurando-se desenvolver a criatividade infantil. E isso é feito de maneira natural, quando no fim de cada uma das histórias encontramos expressões como:
“Agora conta tu...” (Martins 2009: 9);
“Entra. Vem, para ficares a saber.” (Martins 2009: 15);
“Queres vir também? Anda. Sobe.” (Martins 2009: 22);
“Também tens uma cãozinho? Fala-nos dele. Se não tens e gostavas de ter, imagina que tens um...” (Martins 2009: 28).
Mas vejamos mais de perto cada uma das histórias. A primeira, «A menina que aprendeu com o olhar», estabelece um contraste entre uma menina que não gostava de comer a sopa e um menino que não tinha sopa para comer. O problema da fome e da desigualdade social é abordado com simplicidade, acabando a menina por compreender a diferença de condições de vida. E assim, a partir daí, “nunca mais deixou ficar a sopa arrefecida, ou a merenda da escola (...) na pasta esquecida” (Martins 2009: 9).
Na história «No Jardim do Alfabeto» fala-se de um jardim “muito verde, muito especial, muito engraçado” que ficava perto de uma escola. Esse jardim era especial porque em vez de flores os meninos viam nascer letras de muitas cores, tamanhos e formas. É uma história que, de forma, lúdica e divertida, pretende chamar a atenção das crianças para o facto de as letras poderem formar palavras quando bem agrupadas. Tudo é feito naturalmente:
“Um dia, andando a passear por entre elas uma abelha e uma borboleta, ambas deliciadas com tão doce perfume e tamanha beleza, pediram às letras que se juntassem no meio do jardim para fazerem um baile de roda.” (Martins 2009: 10-11)
E, ao juntarem-se, as letras formavam palavras, surgindo uma série delas com cada uma das letras do alfabeto.
A experiência docente com crianças que a Autora possui permite-lhe fazer uma espécie de aula onde, de maneira lúdica, os meninos podem ver palavras iniciadas com cada uma das letras do alfabeto. A essas, mais tarde, juntam-se outras começadas pela mesma letra e, ordenadas, acabam por viverem “felizes para sempre no DICIONÁRIO” (Martins 2009: 15). Donzília Martins, de forma alegre e divertida, usando a imaginação que lhe permite criar histórias, ensina aos meninos o abecedário e o que é um dicionário, um livro para onde “todas as letras, ordenadas, cada uma no seu lugar e a seu tempo, puderam entrar” (Martins 2009:15). No final, há um apelo ao pequeno ouvinte/leitor: “Entra. Vem, para ficares a saber” (Martins 2009:15).
Um dos temas do livro é a morte, um tema pouco usual para crianças, e que aparece tratado com alguma poesia, idealismo, apelando à imaginação, em contos como «A gatinha Kokas», «O Flash» e «A morte é uma flor (Filosofia para crianças)».
No primeiro, depois de a gata Kokas ter morrido, a Mariana, de oito anos, tem esperança de voltar a vê-la, uma vez que dizem que os gatos têm sete vidas. Então:
“E como por magia, uma nuvem branca, que ia a voar nas costas do vento, acenou-lhe.
– Não me reconheces? Sou a Kokas. Vou andar sempre aqui em cima a passear. Quando te apetecer brincar comigo basta olhares e sonhar. Aqui posso transformar-me em tudo o que tu imaginares: fada, príncipe, castelo, rio, ponte, livro, amigos, escola, jardins floridos, o pôr-do-sol, comboios a correr, tudo o que quiseres. Sobe nesse raio de sol e vem brincar.
A menina, embalada, subiu por um fio de cabelo de oiro que o sol estendeu e foi brincar com a sua linda gatinha de olhos cor de mar e céu...” (Martins 2009: 22)
Sugestivamente, encontramos a pergunta: “Queres vir também? Anda. Sobe.” E é assim que termina o conto, com este apelo à imaginação das crianças, tal como sucede com a história do cão Flash, um pastor alemão que dá o título ao conto.
Em «O Flash» temos a Catarina que, “sentada no baloiço, entretanto adormecera e sonhava! Então entrámos todos no sonho dela e vimos o Flash com umas asas, que um anjo lhe emprestara, a voar, a voar, a voar, a voar...” (Martins 2009: 28).
E a história termina com um convite ao leitor para falar de um cão, seja ele real seja imaginário:
“Nas asas do Flash, feito vento, todos subiram. A brisa serena beijava os rostos dos meninos que sorriam, sorriam, sorriam...
Também tens um cãozinho?
Fala-nos dele. Se não tens e gostavas de ter, imagina que tens um...” (Martins 2009: 28)
Nas páginas 29-36 temos a história «Na caixinha da Biblioteca», na qual se fala de uma “menina ‘Grande’” que entra na Biblioteca de Guimarães. É uma projecção da Autora que, com um grupo de colegas está a festejar os 44 anos do Curso do Magistério e vai ver um filme no edifício da Biblioteca de Guimarães.
A “menina ‘Grande’”, ao ver o filme, recordou-se da sua meninice, junto dos avós. “Como por magia” e atraído pelo sonho de a menina ter um exemplar da sua autoria no conjunto dos livros do Plano Nacional de Leitura, um livro poisou-lhe no colo e deu-lhe a esperança de um dia poder ver um livro seu naquele conjunto: “Ainda um dia hás-de dar-me um irmão por companhia” (Martins 2009: 33). E, mais adiante:
“Também tu terás a tua fada boa a tocar com a sua varinha mágica na tua mão, porque no teu coração ela já tocou. (...) Ainda não chegou a tua hora. Não desesperes e nunca desistas. Caminha. É com pequenos passos que se fazem os caminhos.” (Martins 2009: 35)
Com esta mensagem para a personagem, Donzília Martins torna mais abrangente o conselho, fazendo com que se aplique a todos, deixando-nos um incentivo para uma caminhada gradual no sentido de alcançarmos os ideais almejados.
A história termina com a “menina ‘Grande’” a descer as escadas e então, “como por magia, transformou-se em livro!!! “Sonhos de Encantar”... com sete histórias para imaginar!...” (Martins 2009: 36). É um livro em que duas crianças querem pegar, um livro desconhecido para a bibliotecária, mas que elas dizem que fala e salta, porque o viram a descer as escadas.
Esta história e as duas seguintes «Aliz no País dos sonhos» e «A morte é uma flor» (Filosofia para crianças» são as únicas em que não existe o apelo final ao leitor.
Em «Aliz no País dos sonhos» Donzília Martins retoma o género de histórias de Um país na Janela do meu Nome, na medida em que evoca cenas da infância passadas na província, numa aldeia de gente “sofrida e pobre que vive escondida e perdida no meio das fragas, por entre as montanhas...” (Martins 2009: 40).
Nesta história aparece-nos a personagem Aliz, anagrama de Zila, forma abreviada de Donzília. Esta personagem, que é o alter ego da Autora, vive num meio rural, onde passam poucas pessoas, num tempo em que os colchões ainda eram de palha, numa casa em que sobressai a “lareira da cozinha, que era também sala e para a qual davam os quartos sem portas” onde ainda “brilhavam algumas brasas dos paus grossos de castanheiro que o avô colocara à noite para se aquecerem e e esquentar a pedra que serviria de botija para os pés” (Martins 2009: 38).
É neste ambiente que Aliz vive com os avós, sentindo-se muito só e desejando conhecer tudo o que a avó lhe conta nas historias. Uma das pessoas que passa na rua, uma vez por dia, é a moleira que também se sente só e se queixa do isolamento em que vive, já que o seu único companheiro é o burro, o Jeremias, com quem fala todo o caminho e a entende como ninguém. Esta situação da moleira lembra-nos a do protagonista de O Malhadinhas de Aquilino Ribeiro em que a personagem também trata o animal como um ser humano, ele que é a única companhia nas longas viagens que faz.
E, dado que estamos num conjunto de “Sete histórias para imaginar”, esta é mais uma em que se apela à imaginação e, assim, também surge uma fada. É uma fada flor de pessegueiro que consola a menina, incentivando-a a não se lamentar pela solidão:
“Para se ser feliz basta olhar e ver a beleza das coisas que dançam e passam à nossa volta. Depois, beber toda a poesia que vive nelas...Um dia hei-de levar-te a viajar e a conheceres o mundo, como é teu desejo, e terás muitas escolas com meninos.” (Martins 2009: 42).
A história termina com a menina a ser acordada do sonho pelo barulho do ranger do ferrolho da porta, quando o avô chega, carregado de cogumelos. Enquanto o avô prepara uma refeição com eles, a Aliz vai à varanda e agora “ela era a fada encantada, e aquela varanda a torre do seu castelo de chuva dourado” (Martins 2009: 42).
O livro Sonhos de Encantar termina com a história «A morte é uma flor (Filosofia para crianças)», e nela se fala de uma avozinha. É um texto em que no início se fala, com alguma poesia, das avós:
“A maior parte delas tem os cabelos pintados de branco como a neve e lisos ou grifados a fazer de rios ou de pontes. Por cima das avós brilham duas estrelas que, de vez em quando, descem devagarinho e vão pousar-se-lhes nos olhos. Aí, nascem dois lagos grandes, redondos, umas vezes muito azuis, outras muito verdes, outras cinzentos, a baralharem a luz, mas neles, nas cores, brincam duas contas de azeviche, negras, fundas, onde vivem adormecidas mil histórias. É nesses olhares profundos que muitos meninos, sentados nos seus colos, gostam de mergulhar.” (Martins 2009: 43).
E Donzília Martins escreve, a propósito das lágrimas das avós, que muitas vezes também são de alegria:
“Na cara das nossas avós passam rios naturais, com leitos vincados, por onde de vez em quando correm grandes caudais em cataratas de lágrimas.”
Essas gotinhas de água transparentes são quase sempre de alegria por serem testemunhas vivas das crianças a crescerem.” (Martins 2009: 43).
Em «A morte é uma flor (Filosofia para crianças)» a Autora opta por falar livremente das avós, que são “exímias a ser ‘cadeirinhas’ de colo e que “são eternas! Nunca morrem. Ficam sempre connosco, deixando sempre um pouco delas em todos os passos do nosso caminho e, sobretudo, ficam para sempre a viver nas nossas almas.” (Martins 2009: 46). Nesta última história reflecte-se claramente, por um lado, a relação afectiva muito forte que ligou Donzília Martins à sua avó e, por outro lado, a sua experiência, cheia de entusiasmo, de ser avó no momento presente.
Em conclusão, resta-nos dizer que, em Sonhos de Encantar, Donzília Martins, agora avó e a gostar de contar histórias aos netos, aproveita para nos contar pequenas histórias nas quais mostra de forma suave, idealizada e com alguma poesia, problemas com que as crianças e os adultos são confrontados no dia a dia das suas vidas. No seu livro encontramos páginas de encantar, com mensagens de amor, de fraternidade, de saudade motivada pela ausência eterna, uma saudade que pode ser colmatada ou atenuada através da imaginação.
Sobre a fundamentação desta designação, veja-se o nosso trabalho Da heteronímia em Eça de Queirós e Fernando Pessoa à alteronímia em Miguel Torga (Série Ensaio, n.º 24, Vila Real, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2003), divulgado na Internet com o seguinte endereço electrónico:
ttp://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/letras/ensaios.htm#4
Mª da Assunção Morais Monteiro
(Professora Catedrática da UTAD)
Referências bibliográficas:
MARTINS, Donzília (2009): Sonhos de Encantar. Guimarães: Editora Cidade Berço (ISBN: 978-989-8165-22-0).
MARTINS, Donzília (2007): Um País na Janela do meu Nome. Guimarães: Editora Cidade Berço (ISBN: 978-972-8598-88-4).
MONTEIRO, Maria da Assunção (2008): «Trás-os-Montes e Alto Douro em contos/memórias de Donzília Martins». In Revista de Letras II, 7. Vila Real: UTAD: 101-108.
TORGA, Miguel (1988) Novos Contos da Montanha. 14ª edição. Coimbra: Edição do Autor.
In Jornal dos Poetas e Trovadores, n.º 50, Outubro/Dezembro 2009, 3.ª Serie, Ano XXIX
I misteri non sono contrari alla ragione, le sono superiori.
E' un romanzo atipico e anche per questo molto bello quello che A.M. Pires Cabral costruisce cercando di delineare il volto di Francisco Ochoa, il canonico del titolo che, dietro e dentro gli abiti ecclesiali cela più di una vita segreta. Il ritratto, da parte dell'autore e del protagonista, padre Salviano, non è né agevole né consolante perché "spesso la verità è fatta di menzogne ripetute" e il volto di Francisco Ochoa cambia con il variare dei narratori, delle storie, delle leggende fiorite sul suo conto. Lo stesso Salviano ad un certo punto deve fare i conti con la frustrazione e lo sconforto dovuti ai fallimenti delle sue ricerche e dei suoi sforzi: "In effetti mi vedevo sempre più incapace di arrivare alla verità. Le testimonianze che andavo raccogliendo erano così contraddittorie in punti talmente decisivi, i vari informatori divergevano tanto nelle interpretazioni dei medesimi fatti, da farmi credere di ascoltare storie diverse su persone diverse. La verità entrava così nel regno dei desiderata remoti, come qualcosa di sempre più arduo da raggiungere". E' qui che A. M. Pires Cabral trova la brillante intuizione che è al centro del romanzo: la costruzione o la ricostruzione di un'identità, di un personaggio, di una storia potrà trovare zero o infinite corrispondenze con la realtà, ma sarà sempre l'espressione di una verità limitata, nel migliore dei casi. Per padre Salviano la conclusione è anche più drastica, come scrive A. M. Pires Cabral in uno dei passaggi più lirici del romanzo: "E così ho le mani ricolme di schegge di verità ma non so riunirle in una forma riconoscibile, nella verità semplice e chiara, come mi hanno insegnato ad amarla. Non mi resta che fuggire. Giungo alla fine di questa complessa storia senza conoscere la verità, per quanto l'abbia ricercata, per quanta pazienza, ostinazione, perfidia e raziocinio io abbia investito nella sua ricerca. Penso dunque di poter dedurre che la verità non esiste. Semplicemente non esiste. Se mi chiedete se esiste o no, risponderò no". E' così che A. M. Pires Cabral firma un romanzo sensibile, acuto e molto profondo nel centellinare l'inadeguatezza delle storie, la complessità del narrare e la fatica di vivere nel recinto di un'ossessione. Da conservare con cura.
Marco Denti (09-08-2009)